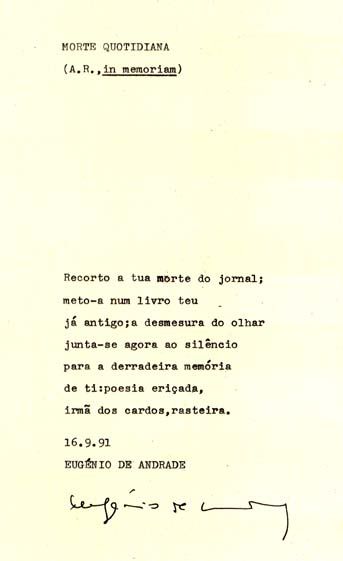[Poesia]
A poesia de António Reis
«Tout poète des meubles – fût-ce un poète en sa mansarde, un poète sans meubles – sait d’instinct que l’espace intérieur à la vieille armoire est profund. L’espace intérieur à l’armoire est un espace d’intimité, un espace qui ne s’ouvre pás à tout venant…»
Gaston Bachelard - La poétique de l’espace.
O que de mais desagradável se encontra naquela muita poesia incipiente que habitualmente lemos talvez seja o gosto que ela tem de se qualificar como poesia, de descaradamente proclamar que é poesia, e, mesmo, que é a poesia. Muito simplesmente – não é. Ou melhor, se toda a linguagem em arte é linguagem qualificada, e, portanto, qualitativamente diferente da linguagem comum, o certo é que a poesia que, logo de entrada, se afirma como sendo o que pretende ser, a poesia que duplamente se qualifica, quase sempre acaba por se perder. Servirá talvez como promoção social (e, por conseguinte, como factor de estabilidade dum qualquer sistema inaceitável de promoção social), como forma de habitar os privilégios de um mundo de cultura; servirá certamente, como manifestação frustrada dum desejo de comunicar, estabelecendo, no anonimato do papel, os laços duma cumplicidade possível. Mas não é poesia – e isso custa. Nada de mais desolador do que a mediocridade literária, cumpridora, modesta e submissa, derramando-se em aluviões de palavras perdidas, incapaz de exprimir com autenticidade um grito ou aventura e repetindo, como quem usa um manual de cartas de amor, fórmulas duma sensibilidade entorpecida. Porque essa poesia – a que o não é – tem o mais grave dos defeitos literários: acredita até à imbecilidade no valor das palavras. Embebe-se delas como quem ainda quer viver – e não vive.
Demasiadamente vivemos entre palavras. Com elas discutimos, ainda húmidas e ensanguentadas, com elas escrevemos o que tantas vezes apenas é mentira e inutilidade. Com elas percorremos, em prodigiosa erudição, labirínticas investigações sem limites (datas, fontes, influências) até depararmos com o vazio das pequenas verdades: inventários de poeira. Quem permanece dentro das palavras a todas justifica: nenhuma se perde, nenhuma se ganha, e somam-se apenas. Por isso se repete: consideremos a especificidade da literatura, as suas leis inalienáveis, a sua força pura e livre. O que está certo, o que é verdade. O que não está certo, o que não é verdade. Ou melhor: o que está certo e é verdade apenas porque se escreve e lê, apenas quando se escreve e lê. Só quando chegares ao outro lado, ao lado de fora, a essa mudez de alarme onde se apaga ainda a nitidez dos rostos e se enlouquece por entre gestos cicatrizados, aí descobrirás as razões: só em função do silêncio existe uma ética da palavra.
Atravessamos nós uma rua e quantas vezes um poeta nos espera, ansioso e feliz. Agressivamente, autoritariamente, é como fere este orgulho de escrever. Não se assiste a um recital de poesia, onde os poetas se lêem e ouvem aplaudir, sem um iniludível mal-estar, um insuportável constrangimento. E se me dizem «não posso viver sem escrever» ou «a literatura é a minha vida», e nos dizem tudo isto no tom engomado das palavras decisivas, apetece perguntar, raivosamente perguntar, como podemos julgar possível, simplesmente possível – habitável, aceitável, suportável – a vida dos outros: dos que não escrevem nem mesmo sabem o que para nós é a literatura.
Falemos pois de António Reis. O que atrás ficou dito é muito importante para lermos a sua poesia e não a recusarmos numa primeira abordagem. António Reis é um poeta para quem a poesia nada tem de privilégio: é apenas aquele mínimo que permite existir, sobreviver, com esperança e dignidade. E por isso a sua poesia quase não chega a aparecer, a ser, quase se reduz a um murmurar sem voz. Para António Reis, toda a poesia emerge do silêncio, do silêncio que antecede o poema, do silêncio que o envolve, do silêncio da morte.
Alguém tem de morrer
(sente-se)
Ah
mas uma criança não
nem um homem
Pense-se
ouvindo o rumor
do coração.
É isto: só este silêncio desolador consegue revelar ao homem o bater do coração – a vida irredutível. Há sempre um esforço para quebrar o silêncio no mundo poético de António Reis. E quebrar o silêncio não é apenas dizer palavras, é sobretudo fazer da palavra-que-é-falada uma palavra-que-fale, é sobretudo des-emudecer a banalidade dum quotidiano exangue.
E as palavras
o que são
de
quem
são
de livros
quotidianas
mudas
As palavras que
se erguemos os olhos
matizadas
ou livres
já no ar
posam
e levantam.
É estilhaçando o silêncio das palavras faladas em vozes impessoais que a comunicação se faz:
Chamaste António
e eu não senti
não tem som
o nome
se outra voz ouvi
Que tenho
Estou longe
e estou perto de ti.
Há portanto uma desesperada exigência de som:
Ah
um
som
qualquer
na toalha branca
no vinho na água
na colher.
Que nos diz este não-dizer das palavras emudecidas? Alienação (Nota de rodapé: O conceito de alienação, de raiz filosófica, não tem ainda um significado rigoroso nas ciências humanas. Utilizamo-lo aqui para designar os processos em que se exteriorizam as energias históricas dos indivíduos e dos grupos sociais de forma a se autodestruírem (cf. Claude Lefort, "L'aliénation comme concept sociologique", in Cahiers internationaux de Sociologie, n.º XIX). Alienação total em certos momentos humilhantes:
Todos os meses
te escondes
na tua própria casa
e o cobrador sabe sempre
quando o silêncio tem pó
e é perfeito.
Que nos diz este silêncio? Fala-nos da mutilação do homem numa dimensão essencial da sua existência: a palavra.
Não podemos iludir a dificuldade: não há uma poesia do silêncio. Apenas há uma poesia que se opõe ao silêncio, uma poesia como antítese (porque a síntese seria uma palavra restituída à sua dignidade quotidiana). Mas, se à fala transbordante que caracteriza o mundo dos privilégios corresponde uma poesia palavrosa e tagarela, à palavra-apenas-falada na mudez do dia-a-dia corresponde uma poesia muito próxima do silêncio – é fácil reconhecê-la na obra de António Reis. E não podemos também ignorar que esta poesia tão pouco poética (e por isso pouco acessível na sua simplicidade) põe em causa o mundo da cultura. «A cultura é culpada na medida em que é, directa ou indirectamente, um meio de explorar o trabalho: são aqueles que sabem e que falam bem que ordenam, que empreendem, que correm riscos (porque uma economia de mercado é uma economia de cálculos e de riscos); são precisos "intelectuais" para fazer a teoria do sistema, ensiná-la, justificá-la aos olhos das próprias vítimas», escreve o filósofo Paul Ricoeur. E acrescenta: «Qualquer homem que pensa e escreve, sem se sentir incomodado no seu estudo ou investigação por um regime em que o seu trabalho é negociado como mercadoria, deve descobrir que a sua liberdade, que a sua alegria estão apodrecidas, porque são a contrapartida e, de longe ou de perto, a condição e o meio dum trabalho que outros fazem sem liberdade nem alegria, porque o sabem e sentem tratado como coisa» (Nota de rodapé: Paul Ricoeur, Histoire et Vérité, Ed. du Seuil, Paris, pp. 211-212).
É isso que explica, creio, essa redução da poesia na obra de António Reis – tentativa de desmistificação e denúncia, portanto.
Na cidade onde envelheço
não há brisa
há vento
A brisa é para o amor
e para os cabelos
Na cidade onde envelheço
a roupa tem de secar
durante a noite
os operários levantam-se cedo
e o seu amor é simples
e no trabalho.
Em António Reis, toda a poesia emerge do silêncio – processo difícil, lento, convulsivo. Porque se trata dum silêncio tenebroso, feito de cegueira e rouquidão, feito de dias alucinadamente repetidos, feito de esgares apenas – esse silêncio de pedra que é o quotidiano de muitos.
E cumpre-nos apontar a coragem de António Reis. Porque há coragem em suportar e assumir a ambiguidade da poesia quando tudo a torna impossível: poesia é sempre sinal de que há algo de supérfluo (e por isso é natural, é já natural uma palavra desviada da sua utilidade imediata) e sinal de que algo nos falta (e por isso não nos basta, ainda nos não basta a palavra essencial, reduzida ao seu valor prático). Ora a poesia a que estamos acostumados, reconhecendo embora a existência desta tensão inevitável, acaba sempre por escolher o pólo do supérfluo (mesmo que seja para declarar o seu remorso): é poesia feita de palavras escolhidas entre palavras, é poesia da fala humana e criadora.
A grande coragem de António Reis consiste em escolher o pólo oposto, e dar-nos uma poesia feita de palavras arrancadas à mudez, uma poesia de silêncio esgarçado. Talvez seja por isso que o leitor se sente, de quando em quando, desiludido. António Reis é um poeta corajoso porque continuamente afronta o risco de ver a sua poesia diluir-se em palavras esboroadas, em silêncio asfixiante, em vazio. Uma luta se trava em cada poema, dolorosa e decisiva. E note-se: porque a sua poesia não é expressão de privilégio nem gratuitidade, o que em cada poema de António Reis se joga não é apenas a poesia, mas a dignidade e o sentido duma existência. Liberdade ou morte (dilema forçoso, como adiante se refere).
António Reis escreveu até hoje dois livros: Poemas Quotidianos e Novos Poemas Quotidianos. É pouco. Talvez monótono? O quotidiano, o insignificante, o homem comum, a vida vivida hora a hora: isto constitui a preocupação obsessiva do poeta.
Vejamos. O que é o quotidiano? Quem o vive? Quem o conhece? Onde se encontra? Em todo o lado e em parte alguma. O que precisamente caracteriza o quotidiano é não ser localizável num determinado nível ou área de existência, continuamente oscilando entre o informal (a espontaneidade criadora irredutível a esquema) e o amorfo (a banalidade mecânica), continuamente evitando cristalizar-se e ganhar contornos visíveis. O quotidiano é o gesto sem futuro, a conversa inútil, a claridade breve dum sorriso. Vivemos o quotidiano sem o sentirmos e só da sua presença tomamos consciência quando o vivemos como tédio e fadiga (Nota de rodapé: Esta análise baseia-se no artigo de Maurice Blanchot, "L'homme de la rue", publicado em La Nouvelle Revue Française, n.º 114, Junho de 1962).
António Reis, ao escolher o quotidiano como seu tema fulcral e dominante, aceitou para a sua poesia uma atmosfera de cansaço e rotina, que de uma ponta a outra a percorre. Poesia lenta, sonolenta, arrastada, ferida. Poesia de indiferença e de repetição (alguns poemas iniciam-se por versos idênticos). Perguntará o leitor: poesia?
Quem vive o quotidiano é o home comum, aquele que é igual a todos os outros. O quotidiano é uma acção sem sujeito: vai-se para o trabalho, passeia-se aos domingos. Toda a obra de António Reis denota esse interesse me reduzir a voz que fala às dimensões mais discretas. Mas haverá poesia sem uma presença original, algo que distinga e singularize? Não creio. O que sucede com Poemas Quotidianos é apenas isto: o seu autor revela-se tão igual aos outros, tão vulgar, tão invulgarmente igual aos outros, que se torna diferente deles. A poesia de António Reis não vive de abstracções nem de médias estatísticas. Dá-nos somente a existência exemplar de alguém que profundamente assume toda a mediocridade dum quotidiano insípido.
Devemos evitar um perigo, que seria o de considerar o "homem comum como categoria imutável. O homem comum é apenas aquele que é mais comum em determinado período histórico e em determinada sociedade. E não podemos esquecer que avaliar qual é aquele-que-é-mais-comum só se pode fazer a partir das perspectivas ideológicas desta ou daquela classe. O leitor, por exemplo, sente-se um homem comum? E que é para si um homem comum? É evidente que a noção de homem comum é uma norma (ou normas) estabelecida(s) em função dum contexto sócio-económico. O que é importante.
Devemos averiguar, portanto, qual é o homem comum destes Poemas Quotidianos. Desde já podemos afirmar o seguinte: é um homem que vive muito mais (em qualidade e não em quantidade, é claro) fora do tempo de trabalho. Os poemas que vão ler situam-se explicitamente em domingos ou feriados, à noite ou no regresso a casa ao fim da tarde. Paradoxalmente, este poeta do quotidiano ignora uma das estruturas fundamentais do quotidiano, que é o trabalho. Ignorar, ignorar, não é bem assim. Episodicamente, o poeta diz-nos:
Na cidade onde envelheço
(...)
os operários levantam-se cedo
e o seu amor é simples
e no trabalho.
e:
Passam ainda operários
abelha branca
(Mas o poema continua: "Fica na cama hoje").
Portanto, António Reis, sem desconhecer a realidade do trabalho, conhece-a, na sua poesia, apenas na medida em que a pretende esquecer. O primeiro poema do livro logo nos diz:
Deu meia-noite
és livre
Livre, porquê? Porque pode agora possuir o tempo, modelá-lo à sua vontade, gastá-lo como entender, sem estar submetido a ritmos estereotipados. E prossegue:
Não mais se lembrarão de ti
Só se o luar nascer
ou a manhã
ou se gritares
Este verso final dá o tom de todo o livro: o de um grito contido, refreado e exausto. Porque a liberdade da noite ("és livre") é ilusória, é liberdade negativa de não fazer o que os outros querem, mas não liberdade criadora de poder fazer. É apenas abrigo, refúgio contra o tempo de alienação - é alienação do tempo, tentativa irreal e absurda de o dominar: "só na cama/o tempo/ainda é meu//como a palavra".
Mas nenhum tempo se possui, porque só existe como medida da nossa capacidade de agir. Em António Reis, ele funciona como espaço de passividade, onde nada se faz para reagir ao ter de fazer do trabalho quotidiano. Saboreia-se o tempo, reduzindo-o ao valor de um objecto:
Só o barbeiro
julga que adormeço
saboreio
o tempo
Mas saboreá-lo, coisificando-o, é, no fim de contas, perdê-lo, gastá-lo inutilmente. Ora o tempo, segundo o poeta, deve-se poupar. São várias as composições de António Reis que exprimem esta avareza do tempo:
É domingo hoje
mas nós não saímos
é o único dia
que não repetimos
e que dura menos
E:
Aos domingos
aos domingos o golo nos estádios
chega até minha casa
e até ao mar
(...)
Ah que fazer
senão esperar pela semana
dormindo
Podemos agora entender melhor um dos elementos fundamentais do mundo poético de António Reis: a obsessão da imobilidade. É preciso deter as coisas, fixável-las, emoldurado-las. É preciso que desse afundamento no vazio que é o quotidiano fiquem imagens muito nítidas do que foram os rostos e as coisas. Muitos poemas de António Reis são enumerações de objectos, porque é nomeando-os que o poeta os completa, recupera e cristaliza. no interior da casa, não há propriamente actividade, mas apenas quadros, cenas imóveis, um silêncio de intemporalidade.
Enquanto
em
silêncio
tu
ponteias
escrevo
no tempo
o teu retrato
Ou:
a mão no ombro
ou na cintura
atenta
quente
e quieta
por dentro
Ou:
No espelho
oval
tu e eu
lado a lado
uma cama
ao fundo
juntos respiramos
e não ficou embaçado
Ou ainda:
O eléctrico chegou
e cada passageiro
alheio à janela
um retrato a óleo
para mim ficou
Este gosto pelo tempo congelado exprime-se, muitas vezes, por versos interrompidos ou truncados com que o poema termina. O poema é sempre breve, fugaz, uma iluminação difícil que, significando a imobilidade, se deve reduzir ao mínimo para que a não destrua. O início dos poemas mostra-nos que há sempre algo antes que já era poema (e que funciona como inspiração para o poeta), mas ainda não era palavra, e que o poema é somente um modo de concretizar e objectivar, por alguns instantes, essa tensão intolerável criada por uma imobilidade mais profunda.
A poesia tem portanto um papel bem definido: criar (ou manter) imobilidade. Ou ainda: a poesia é uma forma de não gritar. E não pensemos que tal imobilidade anula os gestos: transforma-os em gestos parados, carrega-os de sonambulismo, desenha-os com límpida serenidade.
O meu repouso és tu
ao fim da tarde
enquanto secas o cabelo
e te penteias
com o sossego de uma asa
e as janelas brilham
como salinas
suspensas
Liberdade ou morte, escrevi. O dilema está posto e é preciso optar. Contudo, a poesia de António Reis é, muito conscientemente aliás, poesia de alienação, porque nela a liberdade é morte (paralisação, imobilidade), é negação do dinamismo criador e construtivo da vida. Poesia de alienação é portanto aquela em que a poesia e a morte convergem num só espaço de existência, conservando-se a vida vivida como morte da liberdade e tornando-se a poesia (não vivida) como liberdade para a morte. (Liberdade que define o homem, sempre que toma consciência de si, mesmo que seja em circunstâncias em que todas as saídas estejam fechadas e apenas reste uma última escolha: aceitar a vida ou morrer).
É por isso talvez que, no interior do quotidiano inteiriçado de que nos fala a poesia de António Reis, a morte pouco mais é do que uma diferença de grau, passagem de um estado a um outro estado qualitativamente igual, simples aprofundamento duma situação, transição quase insensível: “mortas dormindo”.
O pente os ganchos
oferece-os à Madona
todas as filhas geradas
foram mortas
(só as nossas vivem
só as nossas crescem
entre os nossos receios)
mortas
sem os pais à cabeceira
mortas dormindo
Ou:
Arrefecem
entre soluços
os joelhos
na posição de mortos
batendo os pulsos
quentes
os corpos
Falámos já dos poemas de António Reis como enumerações de objectos. Pois bem, retomemos a questão. É evidente que os objectos ocupam um lugar predominante em Poemas Quotidianos e é fácil explicá-lo se lembrarmos que os objectos são o que de mais permanente há que possa fixar o fluir sem contornos do quotidiano. Designando os objectos que o rodeiam, António Reis dá forma, cria sentido, harmoniza o seu pequeno mundo. Trata-se, portanto, de um esforço de ordenação - persistente e obstinado.
O valor dos objectos em Poemas Quotidianos levou alguns críticos a classificar o seu autor de poeta materialista e a associá-lo aos nomes tão conhecidos de Ponge, Guillevic, Follain ou Mello Neto. Seria longo e inoportuno analisar em que medida a poesia de António Reis se diferencia dos poetas citados e se aproxima mais acentuadamente de outros, como, por exemplo, de o de Gabriel Cousin, que escreveu um admirável Ordinaire Amour, em muitos pontos paralelo ao projecto de Poemas Quotidianos. Isto não põe em causa, contudo, a validade da classificação proposta: António Reis é, indiscutivelmente, um poeta materialista. Vários poemas poderiam ilustrar esta tese, mas um só basta:
As minhas mãos
só trabalham
ou adormecem
esfriam
ou aquecem
Não desmaiam
nem têm rios
Têm ossos
músculos
e sangue
poros também
por onde transpiro
mais nada têm
Contudo, estamos ainda numa aproximação superficial, porque materialismo não é a redução de toda a realidade a um dado tipo de matéria. António Reis é um poeta materialista, porque a sua poesia é toda ela regulada por uma concepção materialista do mundo, que não deixa de estar presente (muitas vezes como ausência de) em qualquer dos seus versos.
Que é, pois, ser materialista? É definir o homem por aquele mínimo que permite não excluir da definição nenhum homem nem absolutamente nada do que qualquer homem possa vir a ser. Isto é, definir o homem como necessidade: descer ao nível primordial da necessidade, descobrir a materialidade primeira de todo o homem, revelá-lo como corpo orgânico da matéria, e, portanto, como auto-insuficiência, como matéria de necessidade e necessidade de matéria. Se António Reis é um poeta materialista - e assim o julgo -, o certo é que nos seus poemas o objecto não chega a ter uma função central. Para o poeta, o objecto nunca conta por si só, mas apenas como elemento de uma relação: nenhum vale individualmente, nenhum merece um instante de análise (não seria isso já um luxo?).
Em Poemas Quotidianos, os objectos existem como negação do homem para o revelar a si mesmo (tal como só a partir do conhecimento da morte se pode ter uma consciência responsável e actuante da vida). Os objectos estão diante de nós, desafiam-nos, provocam-nos, para nos poderem dar, através causa resistência, a evidência fulgurante da subjectividade. Os objectos existem para que o homem se lhes oponha e, opondo-se-lhes, se confirme.
É habitual afirmar-se que uma das virtudes da poesia consiste em anular a oposição entre sujeito e objecto: o mundo está em nós e nós no mundo. O que acontece em António Reis é até certo ponto o contrário. A identificação entre o sujeito e o objecto é não-poética e sempre anterior à existência do poema, isto é, mergulha na zona de silêncio e obscuridade que a palavra poética deve romper. Para que haja a fusão entre o sujeito e o objecto que a poesia costuma operar é preciso que antes do poema exista realmente qualquer distância entre o poeta e o mundo. Ora o que a obra de António Reis nos revela é que essa distância é um privilégio. Em determinadas situações, o homem permanece objecto e todo o distanciamento em relação ao mundo é sempre esforço, luta, conquista. Em Poemas Quotidianos, o poeta nega conscientemente o mundo dos objectos para abrir um espaço de liberdade e plenitude possível. Para António Reis, a poesia só pode ser criação de distância: não pode ser ainda fascinação da unidade.
Ignorando em larga medida a dimensão do trabalho, por todas as razões que levaram a falar da sua poesia como poesia de alienação, António Reis nunca estabelece entre o homem e o objecto uma relação positiva. Até certo ponto, os objectos falham, incomodam, desiludem, irritam:
Outra manhã
de olhos vermelhos
e água gelada
de travo na boca
e de toalha molhada
E:
Outra manhã
de olhos vermelhos
e água gelada
de garganta ao espelho
e de gilete arrastada
Será talvez exagerado afirmar que o mundo dos objectos opõe uma resistência hostil. Os objectos desagradam e desiludem, sim, apenas porque neles há passividade, neutralidade. As coisas existem somente como suportes materiais da nossa presença a pouco e pouco transformada em ausência - como sinais de morte, simplesmente.
Ora a relação positiva com os objectos exige uma outra atitude. Através do trabalho, há produção e reprodução da vida: o homem apropria-se da natureza, apropriando-se simultaneamente da sua própria natureza. Nenhum de nós pode limitar-se a ser uma subjectividade que se esboroa em gestos amortalhados. É pelo trabalho que o homem se objectiva, afirma, reconhece. O homem só não se perde no objecto quando este se torna para ele objecto humano ou homem objectivo. Isto só é possível se o objecto se torna para ele um objecto social, se ele se torna a si mesmo um ser social, tal como neste objecto a sociedade se torna um ser para ele. Pelo facto de, na sociedade, a realidade objectiva se tornar para o homem a realidade das forças essenciais do homem, a realidade humana e, por conseguinte, a realidade das suas próprias forças essenciais, todos os objectos passam a existir para ele como objectivação de si mesmo, como objectos que manifestam e realizam a sua individualidade, como seus objectos, isto é, objectos de si mesmo (Nota de rodapé: O leitor poderá reconhecer aqui alguns passos dos Manuscritos de 44 de Marx).
É curioso notar que em António Reis nunca há socialidade concretamente vivida. É verdade que o poeta nos descreve, em versos admiráveis, a convivência modelar entre companheiro e companheira, mas, para além desse espaço circunscrito, os outros surgem-nos extremamente longínquos e esbatidos. A socialidade (que permite a consolidação de um nós dentro de nós próprios) é substituída por uma certa fraternidade difusa (que é exigência dos outros na sua multiplicidade exterior ao nosso projecto mais íntimo de vida).
Já deitado
e pensando no escuro amigos
há um poema de café
que quero escrever ainda
o poema do maço de cigarros
aberto sobre a mesa
e à descrição
E:
Não fumo apenas
ao ver passar os homens pelos passeios
não fumo mesmo
Há uma ternura
que encontro e que possuo
perdida amargamente
por não nos olharmos
sequer
Tentemos resumir o que ficou dito. Uma das principais características de Poemas Quotidianos é a presença dos objectos. esses objectos possuem uma dupla função. Num primeiro momento, têm um papel positivo, porque resistem, e, portanto, limitam, e, portanto, delimitam, e, portanto, definem o homem. Podemos também dizer que os objectos constroem a subjectividade do poeta. Em António Reis, não há vida interior: há um espaço interior. Ele mesmo nos diz:
Um espaço interior
criei
nestes poemas
onde estalam os móveis
e os sentidos
onde as ideias
à meia-luz
respiram
e a vida
as imagens
não se reflectem
só
nos vidros
E há belíssimas descrições da «vida interior» que nas casas próximas se vive:
Hei-de entrar nas casas
também
Como o silêncio
A ver os retratos dos mortos
nas paredes
um bombeiro um menino
A ver os monogramas bordados nos lençóis
os vestidos virados
os vestidos tingidos
os diplomas de honra
as redomas
E a caderneta de Socorros Mútuos
e Fúnebres
em atraso
Esta é uma das grandes qualidades de António Reis: reduzir a vida interior a uma exteriorização num espaço interior. Num espaço interior?, perguntarão os veneradores do absoluto. Num espaço interior e não exterior? É verdade, é assim: a poesia de António Reis prefere sempre o menos ao mais. Espaço interior, isto é, espaço privado. Mas haverá algum espaço humano que não seja interior a um sujeito (mesmo se esse sujeito é colectivo)? Um espaço que não fosse interior, mas - finalmente - exterior, seria um espaço total onde o homem se diluiria como presença criadora. O espaço é sempre interior. Aos homens cabe alargá-lo, ocupando-o progressivamente pelo seu trabalho e combate.
Retomemos o fio da meada: num primeiro momento, os objectos têm, na poesia de António Reis, uma função positiva, mas, num segundo momento, isso já não acontece. Entre o poeta e o mundo há apenas uma relação de afastamento (de redução simultânea à categoria do passado, ao domínio do inerte). Não há transformação recíproca. A dignidade do trabalho (mesmo quando se realiza em moldes de alienação) não chega a aparecer. As relações com o mundo têm sempre uma certa tonalidade de evasão: o tédio, o silêncio, a imobilidade, o sono, o sonho, a fuga («Há sempre um rapaz triste em frente a um barco»). Só de longe a longe, em relâmpagos furtivos, se vislumbra a dimensão anti-natural do homem:
Não amo a cidade
por ser grande
Amo-a
por ter nascido sem mistério
e ter criado
a sua própria natureza
No universo poético de António Reis, que representa o amor? Em primeiro lugar, uma forma de camaradagem inteiramente inédita na nossa poesia. Também neste ponto a obra de António Reis inverte os dados tradicionais: o amor não é considerado nos seus instantes paroxísticos de comunicação, mas apreendido ao longo do tempo que dura, como esforço consciente-inconsciente e desesperado de criar um espaço habitável.
Conheço
entre todas
a jarra que enfeitaste
têm o jeito
com que compões o cabelo
as flores
que tocaste
Ou
Sei
ao chegar a casa
qual de nós
voltou primeiro do emprego
Tu
se o ar é fresco
eu
se deixo de respirar
subitamente
É interessante verificar até que, quando o amor se torna consciente e premeditado, quase parece que falha:
O teu convite
ainda me sabe a incesto
ainda o sinto a furar-me as axilas
a fazer-me rir
e chorar
E poderíamos talvez concluir: na poesia de António Reis, o amor é tanto maior quanto mais se torna inconsciente, quanto mais se dissolve na poeira ardida dos dias como intenção cega e dispersa, quanto mais se grava e molda na corrente do quotidiano. Não é que este amor seja apenas uma ilusão piedosamente mantida. Pelo contrário, é uma força. Mas, como força e descoberta mútua, não chega a ser nunca (ou quase nunca) uma colaboração estabelecida, um pacto firmado para ir ao encontro do futuro e edificar a esperança. É reduto, defesa, resistência. Não é, pois, uma ilusão: como forma de resistência, é apenas o que alimenta as ilusões:
Não é vento
não
são gritos amiga
como eu
tu sabes
o que é uma ferida
mas é bom sentir
a tua mão na minha
porque
queres
mentir
Mas - precisamente porque é um modo de cumplicidade e mentira em nome de uma esperança incerta - este amor deve ser, acima de tudo, inconsciente: não perduram as ilusões conscientes. E por isso o amor se objectiva e vive no plano mais impessoal: é esse o seu lado positivo. E por isso se retrai e amargura, quando se torna reconhecimento frontal de duas consciências.
Este amor só se realiza e vence na medida em que, imperceptivelmente, interioriza o espaço e, interiorizando-o, o acresce.
Já não sei
onde
começa e acaba
a tua face
Já não sei
onde são dedos
ou gestos
as minhas mãos
Ou:
Também tu
não amas
as cortinas
e sabes que beijar
é ver um rio
Ambas as margens livres
parte dos olhos
a brisa
e a eles volta
com aroma
Descobrimos aqui a justaposição de espaços, que se estabelece a partir da simples relação entre dois corpos até ao uso dos objectos, até ao aparecimento do espaço natural, com um sabor de origem que subitamente se anuncia e nos parece esperar. E a poesia surge-nos como comunicação - isto é, esforço para tornar comum - entre os espaços diversos que a prática quotidiana nos revela. (Note-se que a figura de retórica predominante em toda a poesia de António Reis é o zeugma: "passajando a roupa / a dúvida").
A varanda
é só recreio
e altura
para vermos
as pombas
e o céu
para aquecermos os pés
descemos
à rua
e passeamos
com naturalidade
Ou:
As palavras que
se erguemos os olhos
matizadas
ou livres
já no ar
pousam
e levantam
A intenção última parece ser a recuperação dum imaginário e mítico espaço natural:
Só pelos joelhos
sentimos as estações
com saudades
de água
violeta
com saudades de árvores
velas
a nascer
Ah natureza de sentidos
perdida
e da terra
penso
olhando o trânsito
rápido
da janela
Este espaço natural - horizonte de tranquilidade e plenitude - exprime-se num dos belos poemas do livro:
O outono
ainda tem a cor da areia
e já a luz passa
as folhas no teu rosto
Segues as ramagens
no vestido
e são naturais amor
as sombras inquietas
Essas sombras que percorrem todos os Poemas Quotidianos, enlaçando-os de angústia, tornam-se agora repentinamente sombras naturais, que com serenidade e ternura nos envolvem. Este espaço natural corresponde já a uma fusão entre o homem e a natureza que mutuamente se prolongam e complementam. O poema comunica-nos uma alegria solar, enche-nos de confiança. É o contentamento duma circularidade retomada: entre as ramagens das árvores e as ramagens dum vestido não existe separação, porque um só movimento as domina. O fruto aparece como representação simbólica dessa plenitude, dado que nele se condensa e concretiza a esperança irredutível: "Só na cama/o tempo/ainda é dela/como um fruto". E, tal como o coração que só no silêncio se escuta, o fruto é o objecto que se olha no interior dum mundo de objectos imperfeitos (recorde-se a epígrafe: "Les hommes ne savent pas ce que c'est une orange", Saint-Exupéry). Fruto e coração identificam-se, na sua forma circular, como plenitude máxima e plenitude mínima, vida e morte.
Bate coração
no peito que te guarda
lâmpada
suspensa
fruto como cadência
estrela
em rotação pelos telhados
Bate coração
até as sombras se alongarem
pelos braços
Chegados ao termo desta análise, que nos ficou por dizer? Tudo, praticamente. A simplicidade de Poemas Quotidianos é enganadora. É preciso contorná-los pacientemente, repeti-los muitas vezes, procurar enunciar o que nos esconde a sua demasiada evidência. Não tocámos em algumas questões gerais que teriam indiscutível interesse. Por exemplo: onde situar esta poesia na evolução literária portuguesa? Como aprender a lê-la? Como recitá-la? Quais as suas possibilidades de renovação? E ainda: qual é o seu autêntico valor?
Uma qualidade inegável lhe foi apontada pôs Óscar Lopes: "António Reis está contribuindo muito nesta sua fase de poesia quotidiana para arrancar a poesia portuguesa a uma diluição temática, uma desossificação sem futuro". Nisto, todos estamos de acordo, creio. Mas uma dúvida ainda me preocupa: conseguirá o leitor, sem esforço, gostar desta poesia? Poder-se-á apreender com facilidade o que nela há de profundamente diferente?
Para tal, convém que nos ocupemos da sua classificação. É evidente que Poemas Quotidianos se opõem a uma tendência discursiva que se pode encontrar na "Presença", no pouco surrealismo que nos coube e em algum rio-realismo de feição romântica. Há mesmo, em larga medida, uma posição anti-surrealista: basta ter em conta a concepção do quotidiano e a função do objecto na poesia de António Reis. No entanto, poderemos dizer que estamos perante uma obra neo-realista? Em artigo que há anos publiquei no "Diário de Lisboa" respondia que sim. Hoje, tendo-a estudado com mais demora e ponderação, julgo preferível considerado-la tangente ao neo-realismo, mas dele distinta em alguns pontos fulcrais (o que em nada diminui, é bem de ver, a sua qualidade estética e o seu realismo próprio). Quais são esses pontos? Talvez quatro:
a) ausência da realidade prática do trabalho (pelo menos, nas suas implicações positivas);
b) inexistência de um tempo dialéctico que dissolva os momentos de imobilidade numa plenitude dinâmica e criadora. (Recorde-se a noção de tempo dialéctico que nos dá Sartre: "Deve-se compreender que nem os homens nem as suas actividades existem no tempo, mas que o tempo, como característica concreta da história, é feito pelos homens com base na sua temporalização original") (Nota de rodapé: Jean-Paul Sartre, Critique de la Raison Dialectique, Bibl. des Idées, Ed. Gallimard, Paris, 1960, pp. 64);
c) inexistência duma dimensão qualitativamente nova de futuro;
d) ambiguidade não resolvida da relação com os objectos. O homem projecta-se nos objectos, não para neles se recuperar, e, recuperando-se, neles se enriquecer, mas para morrer. Os objectos atenuam a realidade da morte, na medida em que vão acumulando em si uma existência absurda e inútil. Esses objectos - que se transformam em sinais de morte pela vida inerte que neles se foi sedimentando - ocultam a evidência brutal e violenta da morte. Tornam-se assim cúmplices da violência latente (a morte lenta, a fome, a desumanização) que caracteriza o mundo implícito destes poemas. É certo que oa relação com os objectos é de humanização. Mas essa humanização acaba por esconder a realidade desumana e feroz dum mundo onde a morte ainda é mais um assassínio do que morte autêntica. As relações de humanização com os objectos afastam a angústia insuportável da morte que um horizonte deserto nos daria. Concentrando-se nos objectos obsessivamente, o poeta, até certo ponto, aceita um compromisso: reconhece um princípio de realidade que reprime toda a agressividade negativa do desejo (e daí a existência dum amor resignado e defensivo). O mundo de António Reis é horrível, mas é um mundo pacificado. A morte não é uma injustiça, mas uma necessidade natural e irremediável. Ora "o homem que não experimenta a angústia da morte não sabe que o mundo natural dado lhe é hostil, que ele tende a matá-lo, a aniquilá-lo; que ele é essencialmente incapaz de o satisfazer de verdade. Este homem permanece, no fundo, solitário com o Mundo dado. (...) Ora o Mundo dado em que ele vive pertence ao Mestre (humano ou divino) e neste mundo ele é necessariamente Escravo. Não é, portanto, a reforma, mas a supressão dialéctica, mesmo revolucionária do Mundo que o pode libertar e - em seguida - o satisfazer. Ora esta transformação revolucionária do mundo pressupõe a negação, a não-aceitação do Mundo dado no seu conjunto" (A. Kojève) (Nota de rodapé: Alexandre Kojève, Introduction à la lecture de Hegel. Leçons sur la phénoménologie de l'esprit, Col. Classiques de Philosophie, Ed. Gallimard, Paris, 1947, p. 33).
Volto a perguntar: como irá reagir o leitor perante estes poemas? Não podemos esquecer que Poemas Quotidianos nos trazem um universo asfixiante e atrofiado, que impõe uma redução prévia de nós próprios. É fácil apontar a monotonia estilística - e, por conseguinte, um perigo: a repetição (mas não é a repetição um dos elementos do quotidiano?). Os principais efeitos resultam de elipses, de algumas imagens discretas, duma sintaxe de rejeição (frequência do não) e de escolha (predominância de palavras como só, apenas), de uma ou outra aliteração (por exemplo: os sons nasais significando os movimentos lentos, a ternura crispada de certos instantes). Poder-se-á pensar que estamos perante um livro onde não há muita "poesia", onde faltam palavras. O que talvez seja verdade. Mas devemos ter presente o que nos diz Baudelaire: "La poésie est ce qu'il y a de plus réel, c'est ce qui n'est complément vrai que dans un autre monde". E é de um mundo ainda nosso que António Reis nos fala.
Eduardo Prado Coelho
António Reis - Poemas Quotidianos, p. IX-XXXVIII, col. Poetas de Hoje, Portugália, 1967
Agradecimento: A Graça Lacerda pelo envio de cópia integral do Prefácio. Muito obrigado!